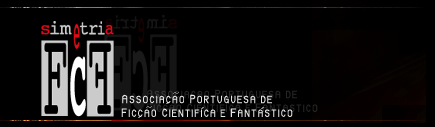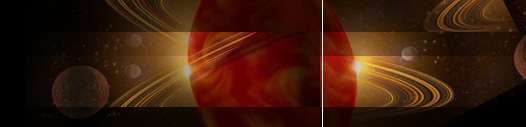| |
|
| Uma Turista de Outro Mundo |

|
1.
Algures numa daquelas ruazinhas que ficam por trás do Largo do Rato, mas que ainda não são consideradas como fazendo parte de S. Bento ou da Lapa, existia um edifício do início do século em mau estado de conservação, com quatro andares, com um pé direito típico dos edifícios da altura.
Esse edifício passaria completamente despercebido na zona. Uma pequena placa de bronze, muito gasta pelo tempo e parcialmente corroída com verdete, anunciava que o primeiro andar alojava a Subdivisão de Crimes Extraordinários da Polícia Judiciária. Talvez o transeunte mais curioso encontrasse um pretexto qualquer para entrar então no edifício, que dava para uma escadaria velha e gasta - mas imaculadamente limpa. O primeiro andar podia albergar qualquer consultório médico de terceira categoria, um notário ou uma firma de advogados em declínio; uma campaínha de baquelite negro datando dos anos trinta, ao lado de uma sólida porta de madeira, tinha apenas uma chapa metálica com a inscrição «PJ/SCE».
Quem ousasse tocar a essa campaínha era imediatamente recompensado com o ruído estridente do trinco eléctrico que abria a porta. Entraria para uma pequena recepção que parecia parada no tempo. O chão era de pedra sem características excepcionais; as paredes, gastas mas também limpas, eram forradas a madeira a partir de meia altura. Tudo dava indicações de ter sido restaurado décadas atrás, numa altura em que a palavra «restauro» era mais sinónima de «manutenção» e pouco mais. Não havia degradação, ou estuque a caír das paredes, ou inflitração de água - apenas uma sensação de gasto. Por exemplo, a iluminação era fornecida por uma lâmpada fluorescente sem adornos especiais; provavelmente teria sido colocada nos meados do século e substituída por lâmpadas de dimensão igual ao longo dos tempos.
A pessoa responsável pela abertura do trinco executava em simultâneo as tarefas de recepcionista, telefonista, secretária/dactilógrafa e de office boy - embora fosse uma senhora de idade indeterminada, mas provavelmente cinquentona, e que dava pelo nome de D. Isabel. Era também ela responsável pela limpeza das instalações. Embora a simpatia não fosse o seu forte, D. Isabel primava pela eficiência, característica bem rara na função pública. Tudo na sua secretária de metal típica da burocracia estatal estava meticulosamente arranjado - a velha consola do PBX, a máquina de escrever electrónica, os papéis e as canetas. Na verdade, este excesso de eficiência e de organização era totalmente desperdiçado - pois a Subdivisão de Crimes Extraordinários não tinha quase nada para fazer. D. Isabel era, pois, como as Forças Armadas portuguesas - pronta para a intervenção, mas consciente de que jamais a sua intervenção seria necessária.
De manhã, ao chegar, sempre pontualmente às 8 horas, D. Isabel começava por fazer a distribuição dos jornais. Levava cerca de uma hora para adquirir os matutinos diários, lê-los na diagonal, assinalar os artigos de interesse, e fazê-los chegar às mãos dos restantes funcionários da subdivisão. Era uma rotina que fazia há trinta anos, desde que entrara ao serviço da Polícia Judiciária.
A verdade é que não existiam também muitos funcionários na subdivisão. A recepção dava para um corredor em U com seis portas em madeira, todas elas com um vidro opaco, sobre o qual eram inscritos os nomes dos seus ocupantes a tinta dourada. Em tempos idos, a pintura destes nomes era contratada a um profissional, mas nos últimos anos era a própria D. Isabel a realizar essa tarefa, por uma questão de minimizar os custos. De qualquer das formas, só existiam mais quatro pessoas na subdivisão, que se conheciam muito bem; os nomes que estavam pintados nas portas eram um pro forma originário de outros departamentos e divisões da Policia Judiciária, e que se mantinha aqui apenas por tradição, não por necessidade.
A primeira porta dava para um pequeno gabinete que era ocupado pelo agente Manuel Gaspar Alves. Alves era também ele um cinquentão e fora polícia de giro antes de ser transferido para aquela subdivisão. Homem de poucas palavras, era o «operacional» da subdivisão, se bem que esse nome pomposo não reflectisse em nada o seu trabalho - que, na verdade, era quase nulo. Tinha vinte quilos a mais e provavelmente seria incapaz de correr atrás de um suspeito, se alguma vez lhe pedissem que fizesse isso. De qualquer das formas, fora para ali transferido na sequência de um tiroteio enquanto ao serviço da PSP, quando, ainda muito novo, tinha levado um tiro numa perna e outro na anca. Sobrevivera quase que por milagre, mas ficara praticamente incapacitado de continuar a desempenhar a sua profissão. No entanto, a Polícia defende os seus, e Alves encontrara ali na Subdivisão de Crimes Extraordinários um trabalho sedentário que podia continuar a desempenhar. Ou que não desempenhava, visto que o trabalho era muito pouco. Mesmo assim, acompanhava os detectives nas suas (escassas) investigações, sempre que preciso - nunca mais do que uma ou duas vezes por ano. Os restantes dias passava-os a ler jornais e a ouvir música e relatos de futebol no velho rádio que fora deixado pelo seu antecessor no seu gabinete. Mas era uma pessoa fiável, muito calma, e bastante calado. Integrava-se perfeitamente numa unidade cuja existência era praticamente nula e que sobrevivera ao longo dos anos porque o seu orçamento era de tal forma reduzido que passava completamente despercebido no rol de departamentos e divisões da PJ.
A porta em frente dava para uma espécie de arrecadação, que também conservava a velha fotocopiadora dos anos setenta, por milagre ainda a funcionar - ou talvez apenas funcional devido ao seu pouco uso. Afinal de contas, nem sempe havia dinheiro para tirar fotocópias, e o uso da máquina era bastante controlado. D. Isabel protestara energicamente pela introdução da fotocopiadora - era a favor da manutenção do sistema antigo, artesanal, à base de gelatina e amoníaco, que servia perfeitamente para a reprodução dos poucos documentos que produzia na sua máquina de escrever. Mas tanto a máquina de escrever, a fotocopiadora e o PBX tinham sido oferecidas pelos órgãos centrais da PJ aquando da introdução de equipamento mais recente nas divisões mais ricas. Eram os três dos equipamentos mais modernos que existiam na Subdivisão de Crimes Extraordinários, com a excepção de um que se encontrava no gabinete de um dos detectives.
Dando a primeira curva do U, ficava o Maior e melhor gabinete, com vista para o trânsito lisboeta, que naquela rua era relativamente escasso. Aqui ficava o espaço pessoal do chefe da subdivisão, o inspector-chefe Eugênio de Castro, licenciado em direito pela Universidade Católica. Já perto dos sessenta anos, era um homem magro e aquilino, de feições duras, embora na realidade fosse de coração mole. Constava que tinha tido um cargo importante no Quartel-General da Polícia Judiciária, embora fosse muito novo nessa altura. Uma complicação qualquer no seu passado forçara a sua transferência para aquela unidade esquecida de todos. Mesmo assim, era, tal como a D. Isabel, bastante eficiente no que fazia. Os seus relatórios de progresso - embora curtos - eram os primeiros a dar entrada nos arquivos da PJ. Detia também o recorde de fecho de casos - embora tal não fosse para admirar, pelas razões que veremos de seguida.
É que a PJ apenas recorria à Subdivisão de Crimes Extraordinários quando tinha entre mãos um caso qualquer que fosse aparentemente inexplicável ou insolúvel. Antes de ser definitivamente arquivado, era passado para as mãos de Eugênio de Castro. Este pacientemente delegava nos seus detectives e no agente Manuel Alves uma exaustiva investigação fora dos moldes e procedimentos normais da PJ. Recorriam-se a meios completamente estranhos - como, por exemplo, o recurso aos arquivos da Torre do Tombo, a consulta em especialistas sobre esoterismo ou até mesmo a mediums na busca de novas informações que pudessem conduzir a uma conclusão de uma investigação cujos factos abordassem o irracional, o inexplicável ou mesmo o oculto. Não era para admirar, pois, que, por um lado, a PJ não desse importância alguma aos casos que chegavam à SCE, como por outro lado ninguém lesse as conclusões altamente improváveis a que Eugênio de Castro chegava. Os casos muitas vezes eram fechados com explicações bizarras - ou mesmo sem sequer uma explicação coerente para os factos. Haviam alturas em que os mais tresloucados casos passavam pelas mãos da SCE; mas nos tempos mais recentes, era vulgar a PJ ignorar completamente a existência da SCE, deitando a papelada dos casos mais extraordinários directamente para o lixo. Existia algum equilíbrio neste processo: afinal de contas, o custo de fazer passar uma investigação para as mãos de Eugênio de Castro era quase nulo. Mais valia darem-lhes algo que fazer do que deixá-los a passar o tempo a ler jornais.
Pois era essa a tarefa mais importante da Subdivisão: a leitura de artigos de jornais detalhando possíveis casos o mais bizarros possível. A Subdivisão era suficientemente autónoma para ter liberdade de escolha nos casos que investigava, sob sua própria iniciativa ou a pedido dos órgãos centrais. Muitas vezes investigavam-se casos sem nexo apenas pelo prazer de fazer algo de mais produtivo do que ler jornais. Era aqui preciso o bom senso de Eugênio de Castro para saber distinguir o que valia a pena investigar - argumentando que o caso tinha pelo menos algo que justificasse a sua investigação - e o que nem valia a pena o esforço da leitura do respectivo artigo no jornal.
Mesmo assim, a quantidade de casos absurdos que passava por Eugênio de Castro era impressionante: muitas vezes chegavam-se aos vinte casos por ano, quase todos eles sem qualquer relevância para a Justiça portuguesa. O último caso que tivera alguma relevância e chegara mesmo aos tribunais envolvera um mau-olhado lançado por uma «bruxa»... há quase quinze anos atrás! Eugênio de Castro tinha uma dose de bom senso suficiente para saber quando é que haviam factos suficientes para incomodar um juíz com uma dose de bizarria suficiente para internar um louco...
O braço direito de Eugênio de Castro era o detective Diogo Duarte Nunes. Era um pouco mais novo que o chefe da subdivisão e era quase o antagonismo perfeito do mesmo. Era gordo, calvo e bonacheirão; um conversador natural. Homem de muita cultura, era licenciado em sociologia, mas tinha uma atracção anormal pelo oculto e pelo inexplicável que cedo causara a sua transferência para a Subdivisão de Crimes Extraordinários, pois acabava por dificultar a acção dos outros departamentos com as suas explicações arrevezadas. Tentara inclusivé acusar um suspeito de assassínio apenas baseando-se na sua carta astrológica. Mas aqui na SCE, brilhava - os seus conhecimentos profundos de tudo o que era estranho eram preciosos para a investigação dos casos inexplicáveis que passavam pelas mãos de Eugênio de Castro - mesmo que na Maior parte dos casos fosse o próprio Eugênio de Castro a reescrever o processo de forma a lhe dar um pouco da consistência necessária a um processo judicial - por mais extraordinário que fosse. De qualquer das formas, o chefe da subdivisão sabia bem que Duarte Nunes era incansável na sua tarefa de procura de explicações loucas - mas plausíveis na sua bizarria - que exaustivamente prosseguia, mergulhado na pequena biblioteca que possuía no seu gabinete. Aliás, a sua biblioteca expandira ao ponto de ocupar a sala defronte, que de momento estava atafulhada de estantes metálicas baratas cheias de pastas cheias de papelada extraordinária. O gabinete de Duarte Nunes era o caos completo, com uma bancada de trabalho com várias camadas de livros abertos sobrepostos em cima de diagramas e anotações. Tinha uma colecção de bloco-notas empilhados precariamente em cima da secretária de madeira, que competiam pelo espaço no tampo da mesa com acessórios quase inúteis como o telefone e a velha máquina de escrever Olympia. A um canto da mesa estava talvez o equipamento mais moderno que jamais passara pelas portas da SCE: um computador portátil de último modelo, oferecido por uma sobrinha predilecta de Duarte Nunes, e que este nunca tinha conseguido colocar efectivamente ao serviço da Justiça. Mesmo assim, era infinitamente mais rápido para desenhar cartas astrológicas ou para mostrar cartas de Tarot no seu écran, apresentadas por um software qualquer obtido algures na Internet.
Uma das várias prateleiras continha cópias de volumes de ficção que ninguém conseguiria levar a sério num gabinete pertencente a um digno membro de uma força policial: livros como o «Livro Azul» que documentava grande parte das aparições de OVNIs nos Estados Unidos desde o incidente de Roswell no Novo México, cassetes de alguns episódios dos X-Files (que Duarte Nunes parecia acreditar que eram baseados em dossiers perdidos pelo FBI e recuperados por um produtor qualquer de Hollywood na expectativa de lucro fácil com a sua divulgação através de uma série apresentada como ficção), as obras completas de Edgar Allan Poe e de H. P. Lovecraft, traduções beras de livros medievais ocultos, ensaios e teses sobre os Templários, uma boa meia dúzia de livros sobre esoterismo, escritos por autores de credibilidade duvidosa, enfim, uma série de obras relacionadas com todo o tipo de assuntos estranhos, bizarros, ocultos e extraordinários. Talvez o livro mais «normal» fosse uma bíblia hebraica do século dezoito, cujas páginas encerravam uma série de notas sobre explicações proibidas pela Igreja Católica.
O resto do gabinete encerrava livros sobre assuntos mais comuns, como física, história, arte e geografia. Havia uma estante quase dedicada apenas a arqueologia. Uma outra tinha livros antigos sobre sociologia, psicologia e até parapsicologia. Alguns tomos sobre medicina, incluindo medicina naturalista e oriental, completavam o quadro. Junto à janela estava uma ardósia repleta de símblos cabalísticos; Eugênio de Castro costumava dizer que se Duarte Nunes vivesse no século dezasseis, seria queimado num auto-da-fé por bruxaria...
Para completar o ambiente místico do gabinete, a atmosfera estava geralmente repleta de fumos exalados por um cachimbo quase permanentemente aceso, característica que Duarte Nunes gostava de partilhar com Sherlock Holmes - a névoa permanente que enchia o gabinete parecia tornar tudo ainda mais irreal, mas Duarte Nunes estava convicto que os odores do cachimbo lhe aguçavam o espírito durante o trabalho mais intenso. Escusado será dizer que era um argumento pouco convincente, especialmente para D. Isabel, que odiava profundamente o vício do tabaco, e que encontrava todos os pretextos para arejar a sala do sociólogo-bruxo sempre que este se ausentava por um minuto que fosse.
Numa tarde sombria no final do Verão, Eugênio de Castro abriu a porta do gabinete do detective, torcendo o nariz perante o miasma que emanava do cachimbo de Duarte Nunes. Este aparentemente deliciava-se em experimentar as marcas de tabaco com odores o mais irrespiráveis possíveis. Deixou uma pasta com capa amarelecida em cima dum espaço da mesa que por lapso o sociólogo se esquecera de ocupar com os seus incontáveis bloco-notas e diagramas. O facto da capa do dossier ostentar as palavras «Ministério da Defesa Nacional» despertou a curiosidade do detective, que arqueou uma sobrancelha e deixou um sorriso maroto trespassar os lábios carnudos. - Ena, o Exército tem algo para nós? - interrogou-se.
- Dá uma olhadela nisto e passa-a ao Benjamim, - disse simplesmente o chefe e saíu, grato por se libertar daquele antro sinistro que passava por gabinete.
O «Benjamim» era o ocupante da última sala da Subdivisão. Era igualmente o mais jovem membro da unidade. Dava pelo nome de Paulo Vasconcelos e vinha de boas famílias. Estudara medicina durante uns anos, mas nunca concluira o curso; pensava em especializar-se em Medicina Legal e exercer a profissão de médico legista. Concluira a parte escolar com uma média péssima e fora aconselhado a desistir; tirara dois anos de Direito, mas a falta de interesse no assunto não lhe permitira continuar os estudos com o ardor necessário para decorar os enormes volumes de Direito a que os estudantes estavam sujeitos. O pai arranjara-lhe uma cunha para um trabalho honesto no Ministério da Justiça; existiam alguns familiares que ocupavam lugares de respeito dentro do Ministério, alguns juízes e até um adjunto do Procurador-Geral. Mas a falta de entusiasmo do jovem Paulo acabara por o condenar a uma transferência para a unidade mais inútil da Polícia Judiciária. O pai desesperara ao ver o seu filho mais novo relegado para um cargo de funcionário público sem importância; a filha mais velha era assessora da administração do Banco de Portugal, um outro filho desempenhava um papel importante na direcção de uma das firmas do grupo da família, um terceiro estava bem lançado num escritório de advocacia de luxo, tratando de off-shores na Madeira, e apenas o último filho fora uma desilusão completa, apesar do seu ingresso na Faculdade de Medicina parecer inicialmente extremamente promissor. A mãe, contudo, mais prática, achava que qualquer profissão honesta fosse melhor do que a condenação a uma vida de estudante frustrado. E a verdade é que Paulo conseguira terminar com louvor e distinção um curso de formação interna na PJ que lhe dava a equivalência necessária para a posição de detective. Fora assim destacado para os serviços centrais da PJ. A estadia fora breve - o jovem recém-promovido detective mostrava uma aptidão para encontrar teorias pouco plausíveis para a solução de casos pendentes, e preferia o trabalho em frente aos livros do que o trabalho de rua - estranha vocação para quem passara uma vida de estudante com horror aos livros de estudo! Mas alguém se recordara da existência da Subdivisão de Crimes Extraordinários, que lhe assentava como uma luva, e graças a um pedido especial da família Vasconcelos, que fora muito insistente para que o jovem Paulo exercesse a profissão de detective - «um cargo digno, com responsabilidades, e com algum staus quo», segundo as palavras da mãe - fora então transferido para a SCE.
Paulo rapidamente se adaptou à nova posição, com bastante entusiasmo. Dada a sua formação em Medicina, passaram-lhe os casos bizarros todos que tinham a ver com corpos estranhamente mutilados ou os assassínios com substâncias estranhas que os Homicídios nunca conseguiram resolver. O jovem detective parecia assim re-encontrar a sua vocação e sentia-se bem naquela unidade pouco exigente, onde podia dar largas à imaginação na sua demanda por explicações pouco plausíveis para os casos inexplicáveis. Eugênio de Castro, contudo, já habituado às teorias de Duarte Nunes, limitava grandemente a imaginação de Paulo Vasconcelos, insistindo em relatórios mais objectivos. Mas Paulo não precisava de grandes incentivos para se dedicar de corpo e alma ao seu trabalho. Formara rapidamente uma amizade com o sociólogo Duarte Nunes, ficando várias vezes maravilhado com a sua vasta biblioteca do bizarro e do obscuro; tornou-se no seu mais fiel pupilo, facto que dava muita satisfação pessoal a Duarte Nunes, embora não fosse tão bem recebido pelo chefe, que tentava - em vão, bem o sabia - que a sua unidade produzisse relatórios mais plausíveis para obter Maior credibilidade junto dos serviços centrais da PJ.
Foi assim que, no dia seguinte, Duarte Nunes entrou no pequeno gabinete do «Benjamim» da Subdivisão, o seu sorriso maroto brincando ao canto do lábio quando se sentou em frente da mesa onde Paulo tomava esporadicamente notas sobre um caso em andamento e que seguia na imprensa e nos relatórios da «Judite». Ergueu o olhar para o detective mais velho. Este simplesmente depositou o dossier militar em cima da mesa. - Quero que leias isto, que tires umas notas e que discutas o assunto comigo durante o almoço. À uma hora, no «Trapos».
O «Trapos» era um pequeno e barulhento restaurante uma rua abaixo, que apesar de servir apenas pratos do dia, tinha um ambiente um pouco retro e era frequentado por um conjunto particular de pessoas que trabalhavam na zona - alguns intelectuais, aqui e ali uns antiquários das lojas da zona, uns estudantes da Escola de Artes Plásticas que abrira no Rato, e este ou aquele deputado de S. Bento mais associado à classe intelectual do que a classe política. Eugênio de Castro recusava-se a entrar no «Trapos»; dizia que estava farto de pseudo-intelectuais a discutirem a influência de Kant na Constituição Portuguesa. Duarte Nunes, admitindo uma certa nostalgia pelos tempos de estudante em que se passavam os dias com conversas perfeitamente inúteis e fúteis do género, numa altura em que acreditava que ele e os amigos estavam na realidade a discutir temas de grande importância para o património cultural da humanidade, era bom frequentador do «Trapos», ao ponto de ter uma pequena mesa «cativa» que lhe estava eternamente reservada num canto da sala, de onde se podia observar toda a fauna que passava pelo «Trapos». Paulo Vasconcelos fora pontual e já esperava na mesa do costume o idoso detective-filósofo há mais de vinte minutos. Este, sempre sorridente, sentou-se murmurando umas desculpas. - É que estava a acabar de ler um excerto interessante de um livro de Johannes Fleischmann - não conheces? Um judeu alemão do século dezoito, tem meia dúzia de coisas interessantes, estava a ler o Die Wasserwesen, uma recolha de relatos históricos alegadamente verídicos sobre uma enorme conspiração de uma raça de humanóides que vive há milênios nas zonas mais profundas dos oceanos, e que a pouco e pouco têm influenciado a raça humana a tornar-se mais civilizada...
Este género de conversas de Duarte Nunes sempre arrancava um sorriso ao tímido Paulo, que achava extraodinário como é que uma pessoa com idade para ser seu pai, e evidentemente com uma certa dose de cultura - se bem que muito parcial! - acreditava com tanta veemência naquilo que encontrava. De certa forma, Duarte Nunes encorajava o próprio Paulo, que tinha a tendência para dar largas à imaginação para explicar certos factos mais incriveis.
Acendeu o seu odorífero cachimbo, facto que levou Paulo a puxar de um cigarro, vício que «apanhara» por contacto com o sociólogo e que provavelmente escandalizaria quase toda a sua família, à excepção da irmã mais velha, que era um caso sui generis. Teresa era cinco anos mais velha que Paulo e tinha uma figura impressionante (que decerto não saía à mãe, matrona de expressão rude e com excesso de peso desde criança), apesar de não praticar nenhuma forma de exercício, alimentando-se com tudo que tivesse excesso de colestrol, fumasse dois maços por dia, bebesse ao ponto de ser quase alcoólica, tivesse experimentado quase todos os tipos de drogas, e partilhado o leito com metade de Lisboa, para além de ter sido presa duas vezes em rusgas de discotecas por comportamento escandaloso que acabara em sessões de strip-tease - o que nunca a impedira de ter sido a primeira do curso, tivesse uma ascensão quase mágica dentro do Banco de Portugal sem qualquer intervenção da família, tivesse sido eleita a «Mulher do Ano» por uma revista do jet-set e publicasse dois best-sellers no espaço de dois anos, um dos quais um livro técnico sobre operações financeiras de capital de risco e o outro um romance pornográfico... mas aos que têm sucesso, uma carreira invejável e uma fama notável, todas as excentricidades eram permitidas.
- ... mas de qualquer forma, - continuava Duarte Nunes, com Paulo a perder já o fio à meada, - não existe nenhuma prova científica que comprove a existência de taquiões que viajem a velocidades superiores à da luz, em clara violação de todas as leis conhecidas no Universo. O que nunca impediu que a sua formulação matemática pusesse em questão o modelo relativista.
Paulo folheou o dossier militar e procurou desesperadamente que Duarte Nunes se concentrasse no assunto em questão. - Como é que uma coisa destas chegou às mãos do chefe?
- Ah! - exclamou Duarte Nunes, exalando uma baforada nauseabunda de fumo levemente esverdeado. - O nosso «Livro Azul»! Aquilo cuja existência nunca consegui determinar através dos meus amigos nos Altos Estudos do Exército. Eles bem que dizem que tudo isto não passa de blá-blá-blá dos americanos, que inventam tudo e mais alguma coisa para vender livros e séries televisivas! Mas eu cá com os meus botões nunca fiquei muito convencido; se de facto existe vida extraterrestre - e eu estou convencido que sim - porque raio é que os extraterrestres só visitam os americanos, como os filmes nos pretendem fazer acreditar? Quanto a mim, sempre achei que se existem divisões no aparelho militar americano que se dedicam ao estudo de OVNIs e de sinais de vida inteligente - como a iniciativa SETI - também na velha Europa os militares devem ter estruturas idênticas. Nem que seja porque fazemos parte da NATO, que é modelada segundo o espírito americano, e temos estruturas idênticas em muitos aspectos. Até o SIS - os nossos «serviços secretos», se bem que sejam terrivelmente amadorescos - têm um grupo de elementos que são treinados pela CIA e pelo MI5 e que reportam as suas conclusões a estas organizações antes de as fazerem chegar ao governo português... não sabias? - Paulo abanou a cabeça, evidentemente. - Mas é verdade. Pois eu creio que as iniciativas como o «Livro Azul», o SETI, as Majestics e semelhantes organizações têm de ter parceiros europeus. Não fazia sentido se assim não fosse. Aliás, os militares portugueses têm uma estrutura completamente à parte da vida civil, coisa que nós normalmente nos esquecemos. Tu também cumpriste o serviço militar obrigatório, não foi? Pois, agora chamam-lhe Serviço Efectivo Normal, mas é a mesma coisa que nos meus tempos. E de facto os militares têm tudo em duplicado: telefones, correios, transportes, e, claro, detecção por radar. De Montejunto controla-se todo o tráfego aéreo militar e civil - a ANA por vezes pede ajuda à Força Aérea quando têm problemas em controlar excesso de tráfego civil. É por isso que este documento é interessante - mostra quais os canais de comunicação entre entidades civis e militares no caso de observação de fenómenos inexplicáveis, em particular, objectos voadores não-identificados.
- Sem dúvidas que é interessante, - disse o jovem detective. - Nem suspeitava que existissem normas para estes casos. Mas, Dr. Nunes - o que é que isto tem a ver connosco? Nós só investigamos casos que nos aparecem - sim, eu percebi que a PJ também tem de comunicar os casos que investiga que possam conter provas de vida extraterrestre a este Centro Nacional de Observações Extraplanetárias ou lá como se chama - mas não nos passam casos desses pelas mãos...
- Ah, mas o inverso também é verdade - o CNOE também pode requisitar detectives da Judite como consultores ou observadores para assistir ou auxiliar nos casos que achem necessário. Está algures por aqui... - Pegou no dossier, folheando os documentos na pasta até encontrar a referência, que mostrou a Paulo. - É isto: «Poderá o CNOE solicitar, sempre que necessário, a colaboração de membros das entidades civis e militares referidas ao abrigo deste protocolo, tanto em acções extraordinárias, como também como observadores no Conselho Nacional para as Observações de Fenómenos Extraplanetários». Este é um órgão que reúne esporadicamente os especialistas da matéria. Pois é, meu caro Paulo, e a Judite faz parte desse órgão, e fomos formalmente convidados para estarmos presentes numa sessão extraordinária do dito Conselho. Escusado será dizer que a Judite não percebe nada do assunto e fez chegar a convocatória ao nosso querido e amado chefe...
Paulo abanou a cabeça. - Não compreendo; que tipo de contribuição podemos nós dar? Não temos assim muitos casos de OVNIs que alguma vez tenhamos investigado... aliás, não são do foro judicial... quer dizer, o que nós apanhamos por aqui são mais os casos de bruxas que lançam mau-olhado, os assassínios inexplicáveis, coisas assim...
- Digamos que um extraterrestre cometia um assassínio. A PJ seria chamada a investigar o caso. Não era assim?
Os olhos de Paulo arregalaram-se. - Vamos investigar um assassínio cometido por um extraterrestre?? Mas...
- Era apenas um exemplo. Quero dizer que a PJ tem juridisção sobre actos criminosos cometidos em território nacional, independente de quem os cometer, seja o suspeito português, europeu, terrestre... ou extraterrestre. Não é assim?
- Bem... tecnicamente, sim, claro...
- Por isso é que fazemos parte do dito Conselho Nacional. Para investigar casos paranormais em que exista claramente violação da legislação em vigor. Correcto?
Paulo assentou que sim.
- Bem. Vamos ao que interessa. - Abriu a pasta que trazia consigo e tirou uma folha de papel térmico. - Esta é a convocatória que nos foi reenviada por fax dos serviços centrais. Alegadamente um aparelho voador não-identificado violou o espaço aéreo nacional. A aviação civil foi alertada para o objecto pelas entidades espanholas, que detectaram o aparelho a sobrevoar o Atlântico, vindo de noroeste da Península. Os espanhóis têm melhor equipamento que o nosso... enfim. O que interessa é que o espaço aéreo a noroeste faz parte da zona do oceano que pertence a Portugal, logo, o problema é nosso. Os radares civis verificaram que a rota do aparelho iria cruzar o espaço aéreo nacional e procuraram identificá-lo. O piloto recusou-se a prestar qualquer tipo de identificação. Entrou no espaço aéreo pelo Minho. Fizeram-se repetidas tentativas para que o intruso se identificasse; nisto, a ANA recebeu um contacto dos militares, a pedir esclarecimentos sobre o vôo não-autorizado sobre o dito aparelho. A ANA informou a Força Aérea de que o piloto não tinha respondido aos apelos de identificação; sugeriu que os militares intervissem.
Paulo quase que se esqueceu de que a comida arrefecia na mesa. O ruído ambiente do «Trapos» parecia diminuir de intensidade à medida que Duarte Nunes, visivelmente excitado com o relato, prosseguia na descrição do acontecimento: - Bom, estes casos são tratados segundo normas internacionais. Primeiro, os civis fazem tudo para identificar o aparelho intruso. Depois os militares fazem o mesmo, tentando estabelecer contacto também pelas frequências militares. Se não conseguirem, interceptam o objecto, acompanhando-o na sua descida no aeroporto mais próximo, seja este civil ou militar. Do Porto lançaram uma esquadrilha de três helicópteros a jacto para interceptar o intruso. Informaram-no de que devia imediatamente mudar de rumo e pousar em Pedras Rubras. Mas o intruso deslocava-se a velocidades supersónicas, apesar de abrandar a sua marcha progressivamente à medida que se deslocava do Norte para o Sul. Continuava a ignorar os apelos para aterrar. Bom, os portugueses são bastante pacíficos nestas coisas, e levam imenso tempo a decidir. Só quando o aparelho - agora a deslocar-se a velocidades subsónicas - passa o Tejo é que se decide abater o intruso. Acho que deve ter sido um dos raríssimos casos em que se fez uma intervenção deste tipo - e segundo o relatório, após consultas com os vários órgãos da NATO. Uma esquadrilha de quatro F-16 levantou vôo da Base Aérea de Sintra com a missão de intercepção. Primeiro, ajustaram a sua rota e velocidade de forma a acopanharem o intruso. Isto tem um procedimento interessante, em que procuram «forçar» o intruso a descer - imagina, por exemplo, que tem o rádio e os equipamentos avariados e que se «perdeu», sendo incapaz de estabelecer a sua posição. Os pilotos em todo o mundo sabem que nestas situações são geralmente escoltados pelos militares até que aterrem em segurança, sem recorrer aos equipamentos. Mas este piloto aparentemente não conhecia os procedimentos e ignorou a presença dos aviões militares. Ora aqui surge o primeiro pormenor curioso: o aparelho não foi identificado por nenhum dos militares. Era um modelo completamente desconhecido. Lembrava vagamente os stealth fighters de última geração, que parecem umas enormes asas triangulares, mas não tinha quaisquer marcas exteriores. O mais curioso era não ter um brilho metálico, embora aparecesse nos radares.
Duarte Nunes abandonou o cachimbo e pareceu aperceber-se pela primeira vez que a comida já estava fria. Mesmo assim, espetou o garfo no bife. - Ora enquanto isto decorria, os militares entravam em contacto com os sistemas da NATO e, com os dados fornecidos pelos espanhóis, procuraram traçar a rota do aparelho até à sua origem. E eis que surge o segundo pormenor estranho: o aparelho aparentemente «apareceu» assim sem mais nem menos a cerca de mil quilómetros da costa portuguesa; e não há registo nenhum da sua rota para além desse ponto! Com isto, os americanos suspeitaram fortemente das intenções do intruso, e sugeriram que fosse abatido, pensando estarem na presença de um avião novo de origem completamente desconhecida. Ora como os russos já não são nossos inimigos, não restam muitos países capazes de desenvolverem uma tecnologia nova, e os americanos mostraram-se subitamente muito interessados nesse aparelho.
Paulo mastigou o resto do seu bife, mas a verdade era que não estava com muito apetite. A história incrível que Duarte Nunes contava parecia-lhe infinitamente mais interessante do que o bitoque à «Trapos». E assim o sociólogo prosseguiu: - Bem, do lado português, haviam muitas dúvidas. Se os americanos queriam o aparelho, abatê-lo não era uma ideia lá muito interessante. Por isso acompanharam o aparelho durante mais umas centenas de quilómetros, procurando a todo o custo fazê-lo descer. Dispararam umas rajadas de metralhadora a curta distância para mostrarem as suas intenções. Continuaram a ser ignorados. Nisto a NATO, verificando a trajectória do aparelho, chegou à conclusão que este iria atravessar o Mediterrâneo, e se continuasse a diminuir a velocidade, iria aterrar algures em Marrocos, o que não dava jeito nenhum - seria infinitamente mais difícil recuperar um avião em território marroquino do que em Portugal, membro da NATO. Deram indicações para os portugueses abaterem o avião o mais depressa possível; e lançaram caças de um dos porta-aviões da NATO que patrulham o Mediterrâneo para abaterem o aparelho caso este saísse do espaço aéreo português. Aparentemente, era preferível apanhar o avião no mar do que em Marrocos...
Verificando que o avião estava a sobrevoar uma zona desabitada no Alentejo - felizmente - o Estado Maior da Força Aérea deu ordens para abater o avião. Estranhamente, os mísseis disparados falharam o alvo; foi preciso abatê-lo a tiros de metralhadora. O aparelho caíu sem que o piloto se ejectasse, e fez-se deslocar um grupo de helicópteros com uma companhia da Brigada Aerotransportada para isolar a zona e capturar o piloto caso este tivesse sobrevivido à queda.
Ora por uma estranha coincidência o aparelho não só não se incendiou como também não pareceu sofrer grandes estragos com a queda; os Maiores danos que apresentava tinham sido causados pelas rajadas de metralhadora, que tinham perfurado o casco, feito de uma estranha substância muito dura, uma cerâmica qualquer mais resistente que o aço.
Nisto Duarte Nunes pausou e terminou o seu prato. Cheio de expectativa, Paulo perguntou: - Então e depois? Conseguiu-se capturar o piloto? Ou identificar o avião?
- O relatório termina aqui, - disse Duarte Nunes, com um sorriso malicioso. - As autoridades civis foram informadas de que o intruso fora abatido, mas que todo o processo tinha sido classificado como «muito secreto». A NATO iria tomar conta do ocorrido daí em diante. O aparelho foi transportado de helicóptero para um hangar na base de Beja. Convocou-se uma reunião extraordinária do Conselho Nacional para as Observações de Fenómenos Extraplanetários, a reunir em Beja. E não se sabe de mais nada.
- Pensava que a base de Beja tinha sido desactivada, - disse Paulo.
- Isso, meu caro Paulo, é o que a Força Aérea quer que pensemos. Na verdade, a base de Beja é demasiado importante para ser desactivada. É que na realidade esta não foi a primeira vez que se capturou um aparelho destes, mas a quinta.
- Quê? - fez Paulo.
- Porque é que julgas que a base de Beja esteve nas mãos da NATO, e mais concretamente, da Alemanha durante estes anos todos? Paulo, Beja é a «Área 51» da Península Ibérica: os seus hangares encerram todos os OVNIs capturados na Península Ibérica. A única diferença é que os outros quatro casos ocorreram em espaço aéreo espanhol, durante a altura em que os alemães estavam em Beja, e a Força Aérea Portuguesa nunca precisou de interferir directamente. Foi sempre tudo tratado a nível da NATO, a Força Aérea só dava as autorizações para os helicópteros que transportavam os OVNIs para lá pudessem cruzar o espaço aéreo nacional. Foi a primeira vez em que Portugal interviu directamente nas operações. E pelos vistos com um sucesso tremendo: nos outros quatro casos, os aparelhos tinham sido parcialmente destruídos. Neste caso... Paulo, neste caso, o piloto sobreviveu à queda!
Subitamente Paulo sentiu um suor frio percorrer-lhe o corpo. Pestanejou. O ambiente no «Trapos» pareceu-lhe irreal. - Capturou-se um... um extraterrestre? Vivo?! Mas... mas isso é absolutamente, completamente... inacreditável! A prova irrefutável de vida extraterrestre! Em Portugal? Dr. Nunes, isso... isso...
- Acalma-te, rapaz, não é a primeira vez que isto acontece; há muitos mais casos documentados... mas enfim, este é o primeiro a acontecer aqui em Portugal.
- Muitos casos documentados...? Mas sempre pensei, enfim, quero dizer, isso são histórias, nunca há factos, são coisas aproveitadas pelos americanos para escreverem livros e fazerem filmes, coisas assim... confesso que nunca liguei muito a isso...
- A verdade é que nunca existem provas disso. Sabes quantas pessoas morrem anualmente em Portugal no Serviço Militar Obrigatório...? Não? Pois, não admira; são coisas que são bem abafadas pelos militares. Têm muito jeito para isso. E de vez em quando, estas coisas vêm a público, e o escândalo é enorme. Enfim. É o que se passa com estas «provas» de vida extraterrestre, há imensas provas e factos documentados, mas ninguém tem acesso à elas. De vez em quando há fugas de informação, mas nunca se conseguem documentos conclusivos ou provas definitivas, e essas «provas» passam a «rumores». Duvido que se possa falar de conspirações, ao ponto de dizer que existe colaboração entre os governos da Terra e os extraterrestres, isso para mim é ir um pouco longe demais... mas lá que foram capturados muitos OVNIs, lá isso foram... e muitos extraterrestres vivos, também. Pelo que sei, morrem pouco tempo depois de estarem no nosso planeta, vítimas de falta de alimentação, atmosferas venenosas, vírus, qualquer coisa assim...
- Tudo que estou a ouvir é completamente inacreditável... não tenho palavras, não sei o que dizer!
Um sorriso esbateu-se no rosto de Duarte Nunes. - Bom... não há muito mais que dizer. Como sabes, o chefe passou-nos a pasta. Vamos os dois estar presentes no Conselho Nacional; arruma as coisas, faz as malas, porque vamos partir para Beja.
Paulo Vasconcelos quase que desMaiou.
2.
Paulo já tinha estado em contacto com a hierarquia militar dos tempos da tropa, por isso não estranhou de forma alguma a segurança apertada envolvida no acesso à base de Beja. É certo, conhecendo como as coisas funcionavam «por dentro», duvidava que as metralhadoras dos seguranças tivessem munição, e que o aparato todo da identificação à entrada da base servisse de alguma coisa - seria muito fácil entrar numa base militar com uma desculpa estúpida qualquer - mas talvez para um estranho às lides militares aquela «encenação» parecesse convincente. Foram mesmo ao ponto de o fotografarem para colocarem a fotografia num cartãozinho plastificado para pendurar na lapela do casaco - e mais uma vez, Paulo pensou que se não tivesse cartãozinho nenhum e dissesse que «ia apenas à messe dos sargentos tomar um copo», provavelmente deixavam-no passar sem grandes problemas.
Um jipe da Força Aérea escoltou o carro conduzido por Duarte Nunes até um dos complexos de hangares da base; mas esse não era aparentemente o seu destino. Pararam num edifício de aspecto recente junto aos hangares. Tipicamente do exército português, o edifiício não tinha qualquer identificação; se alguém entrasse na base por engano e perguntasse onde é que ficava o «Centro de Estudos de Vida Extraterrestre», ninguém lhe saberia indicar o caminho; mas se perguntasse onde é que ficava o edifício da sétima companhia, levavam-no ao sítio certo, mesmo que ninguém na base soubesse o que é que a sétima companhia fazia, até mesmo os guardas à entrada do edifício. Aliás, pelo ar dos militares no interior do edifício, provavelmente ninguém sabia de nada, para além de terem ordens para verificar continuamente a cada entrada se os visitantes tinham os documentos em ordem. Um estranho provavelmente julgava estar num complexo militar de alta segurança onde todos os militares juravam diariamente não revelar segredos. Paulo, contudo, acreditava que muitos dos militares estavam ali a cumprir o SMO - ou SEN como agora se chamava - e quando voltassem à vida civil, se lhes perguntassem o que é que tinham feito, responderiam apenas que tratavam de burocracia numa unidade qualquer. «Segurança através de obscuridade» parecia ser o lema das Forças Armadas portuguesas. Paulo podia quase jurar que os tripulantes do helicóptero que trouxera o alegado OVNI para os hangares nem suspeitavam do que estavam a carregar. Se calhar nem sequer os oficiais que tinham dado as ordens de recolha do aparelho sabiam do assunto. Na tropa, sabia-se apenas o que era preciso, e era escusado perguntar mais do que isso, porque ninguém sabia responder, de qualquer das formas.
Foi conduzido a um enorme auditório, repleto de generais e almirantes mas também muitos civis. Muitos eram estrangeiros; aliás, a língua que se falava predominantemente era o inglês. A confusão era generalizada; estava a decorrer uma sessão que ilustrava num grande monitor o percurso do OVNI até ser abatido, mas Paulo já conhecia a história. Duarte Nunes desculpou-se por uns momentos, porque tinha de falar com alguém. Paulo foi conduzido para outra sala, trocou impressões com um funcionário do Ministério da Defesa, riram-se um pouco com a história dos homenzinhos verdes que tinham sido capturados, depois foi de novo separado. No meio da confusão toda acabou por fazer parte de um grupo que foi visitar o OVNI, e perguntou a si mesmo onde estava Duarte Nunes.
O OVNI era tudo menos impressionante. Aliás, Paulo começou a duvidar seriamente que aquilo fosse, de facto, um OVNI, pois era igualzinho aos aviões tipo stealth fighters dos americanos. O casco, contudo, não parecia ser metálico, mas sim de plástico. Não tinha quaisquer marcas ou sinais ou sequer pintura. Nem rodas; estava pousado directamente em cima do chão do hangar. Cabos ligavam o OVNI a uma série de equipamento. Uma equipa de militares estava a trabalhar em cima do aparelho; de um dos lados viam-se as marcas dos disparos das metralhadoras. Não era nada impressionante; parecia um avião normal a ser abastecido. O guia do grupo explicava que o casco era feito de uma liga de materiais à base de cerâmica tecnologicamente pouco sofisticada, mas que na Terra não era usada para fazer aviões, mas - pasme-se! - fichas triplas! Aparentemente era um material excelente porque não se dilatava com o calor, de forma que era excelente para aparelhos que entravam e saíam de órbita. O Space Shuttle americano usava um material semelhante, embora não igual. Enfim. Paulo estava já desapontado; pensava ver um «disco voador» de metal brilhante que estivesse suspenso no ar por antigravidade ou outra tecnologia fantástica qualquer.
Havia um buraco rectangular no topo, que o guia explicou que tinha sido cortado para aceder ao interior, pois não tinha sido descoberta qualquer porta ou mecanismo que desse acesso ao interior. O grupo então foi conduzido para uma espécie de rampa, do estilo das que servem os aviões normais em aeroportos civis, e um a um, foi-lhes dada a oportunidade de visitar o interior da nave espacial alienígena.
Interior esse que era ainda menos impressionante que o exterior. A primeira impressão que teve foi de que estava num iate de luxo: o chão era forrado com um tapete vermelho felpudo; as paredes eram forradas a madeira. Existiam quadros nas paredes, com molduras modernas, mas aparentemente os extraterrestres apreciavam exactamente o mesmo tipo de arte abstracta que os terrestres. Era mesmo decepcionante. Paulo franziu as sobrancelhas; esperava tudo menos aquilo. Aliás, mesmo as proporções dos corredores, das salas interiores, até à altura a que os quadros estavam pendurados fazia lembrar um navio terrestre. Talvez a única indicação de que se tratava de um aparelho não construído na Terra eram os pequenos detalhes: por exemplo, não parecia haver nenhum tipo de suporte para os quadros. Não existiam interruptores para acender as luzes; toda a nave estava envolta numa luminosidade ambiente cuja fonte era desconhecida. Pequenos letreiros junto às portas tinham indicações numa escrita estranha - mas não tão estranha como isso: era estranhamente familiar, lembrando a escrita hebraica.
O cockpit, ou a ponte, era um pouco mais interessante. A primeira coisa que Paulo notou foram as três poltronas muito confortáveis e desenhadas ergonomicamente, colocadas em frente a um écran negro como a noite. Os extraterrestres tinham de ter conceitos muito semelhantes aos terrestres - qualquer uma das poltronas adaptava-se perfeitamente ao corpo humano! Isso era extremamente estranho. Bem, uma coisa era certa: fosse quem fosse o piloto, este teria de ser um humanóide bípede, erecto, utilizando as mãos e as pernas para manusear os instrumentos da nave.
Os instrumentos eram notavelmente simples - meia dúzia de painéis luminosos, pouco mais do que rectângulos coloridos com a tal escrita estranha. A ausência de instrumentos mais complexos do que uma manete - tipo os joysticks dos jogos de computadores - e um par de pedais para os tripulantes era impressionante. Por um lado, parecia a Paulo que tudo aquilo era uma enorme fantochada; decerto ninguém acreditaria que aquilo fosse uma nave espacial a sério! Nem sequer existiam cintos de segurança para os pilotos! Por outro lado, fazia sentido que uma civilização avançada simplificasse de tal forma as viagens no espaço que qualquer pessoa pudesse conduzir uma nave interestelar com a mesma simplicidade que na Terra se conduziam automóveis. Mas a ausência total de elementos estranhos fazia impressão a Paulo. Não haviam instrumentos esquisitos a flutuar no ar desafiando as leis da gravidade. Não havia uma atmosfera venenosa no interior. Ou tanques estilo aquários onde os extraterrestres repousassem durante a viagem num estado de animação suspensa. Tudo era tão... banal. Se aquela nave fosse colocada no Disneyworld, os putos não lhe achariam piada nenhuma.
O guia não foi muito explicativo - indicava apenas o óbvio: isto é a consola central, aquele écran iluminava-se com imagens do exterior embora não se tivessem detectado quaisquer dispositivos no casco da nave que recolhesse imagens, aqui era a cadeira do piloto. Os quartos tinham vulgares beliches, de dimensões semelhantes aos que poderiam ser utilizados por terestres. Até a casa de banho fazia lembrar uma casa de banho terrestre, com sanita, lavatório e poliban, embora de design mais sofisticado que o terrestre...
Em resumo, a nave impressionava menos do que qualquer nave de um filme de ficção científica com um orçamento reduzido.
Qualquer coisa definitivamente não batia certo. Paulo voltou com o grupo ao hangar principal profundamente desapontado; a visita à nave espacial fora um anticlímax completo, depois do relato excitante de Duarte Nunes.
De regresso a uma sala de espera qualquer, Paulo dirigiu-se a um tenente, ainda reconhecendo as patentes militares, e perguntou por Duarte Nunes. - O sociólogo da Polícia Judiciária, - informou.
- Ah, o sociólogo? - O tenente consultou o relógio de pulso e um bloco-notas electrónico que trazia consigo. - Venha por aqui. - Conduziu-o por uma série de corredores, deixando-o com uma jovem alferes que o levou por mais uma parte labiríntica do edifício. Passou por três postos onde se teve de identificar e onde foi sumariamente revistado; estando tudo em ordem, os soldados faziam continência à oficial que o acompanhava. Esta passou por mais uma sala e deixou-o com outro grupo de pessoas. Paulo estava completamente perdido. Resolveu pedir indicações de novo. Desta feita, um alferes levou-o por mais um corredor. Uma placa dizia «Zona de Alta Segurança - Acesso interdito a pessoas não autorizadas». O que não impedia que diversas pessoas, civis e militares, se cruzassem com ele, numa azáfama que lembrava o Metropolitano de Lisboa em hora de ponta. A dada altura desencontrou-se do oficial que o conduzia, e teve de pedir mais indicações a um sargento que estava de guarda a uma porta que dizia, uma vez mais, que se estava numa área de acesso restrito. Este consultou a placa de identificação, tomou umas anotações noutro daqueles blocos electrónicos, e disse: - Tem meia hora, - abrindo-lhe a porta.
- Meia hora? - disse Paulo, confuso. - Mas... o sociólogo da Polícia Judiciária...
- Meia hora, - cortou o sargento, quase que empurrando Paulo para o interior da sala, fechando a porta atrás de si.
Paulo ficou embasbacado perante a porta, que só se abria do exterior. - Merda! - exclamou. E só depois reparou que não estava sozinho.
Estava numa espécie de sala de reuniões completamente pintada de branco. Uma mesa, também branca, tinha uma série de blocos-notas electrónicos, e também um grande número de papéis, dispostos caoticamente em cima da mesma. Existia um quadro branco, daqueles computorizados que permitiam que se imprimisse uma cópia do que se escrevia em cima dele. Uma das paredes tinha janelas de vidros duplos que dava para o hangar que continha a nave espacial; aparentemente, no meio de toda a caminhada, Paulo regressara ao ponto de partida. Outra parede tinha também uma janela de vidros duplos; dava para o que parecia ser uma sala de operações, mas Paulo não conseguia perceber o que se passava no seu interior. Cirurgiões com os seus instrumentos cortantes estavam entretidos com dois corpos em cima das respectivas camas de operações; a um canto da outra sala, dois soldados serviam de guardas.
Sentada numa das cadeiras junto à mesa estava uma jovem bastante atraente, com um ar triste, envergando um uniforme azul muito claro, sem insígnias de patentes militares. - Oh, perdão, - começou Paulo, desculpando-se pela sua linguagem rude. - Que grande confusão que por aqui vai!...
A jovem sorriu, afastando os cabelos compridos. Eram castanhos, lisos, e os seus olhos azuis fitaram Paulo com um olhar imensamente triste, contrastando com o pequeno sorriso que lhe dedicara. Paulo estendeu-lhe a mão. - Paulo Vasconcelos, da Polícia Judiciária, - apresentou-se, também com um pequeno sorriso. A jovem apertou a mão e disse apenas: - Myra.
Paulo sentou-se a seu lado e abanou a cabeça. - Por mero acaso, não viu um detective da Polícia Judiciária, chamado Duarte Nunes? Um pouco gordo, já de idade, meio careca, óculos na ponta do nariz, sorridente? - A jovem abanou a cabeça. - Logo vi que não. Enfim. Disseram-me que ele estava por aqui, mas pelos vistos enganaram-se. Bolas. Meia hora, disse o guarda. Tenho que esperar meia hora. Enfim. Confusões da tropa. Típico.
A jovem encolheu os ombros. - Tem sido assim todos os dias... - A sua voz era suave, quase melodiosa, e embora a sua pronúncia fosse correcta, era evidentemente estrangeira, o que explicava o estranho nome.
- Calculo que sim. Estás aqui há muito tempo?
Ela sorriu. - Sim, desde que aquilo chegou aqui... - E apontou para a nave. Paulo acenou afirmativamente.
- Pois, eu tenho a sorte de só ter chegado hoje...
- Têm sido interrogatórios dia e noite... também estás aqui para os interrogatórios? - perguntou ela.
Paulo fez que não com a cabeça. - Interrogatórios? Não. Apenas de visita. Bom, presumo que tenha de assistir a uma reunião qualquer com os elementos do Conselho Nacional, mas isso é só à tarde. De manhã foi só para visitar as instalações, calculo eu... - Sorriu. - E parece que visitei todos os corredores e salas deste edifício, que - confesso! - não me interessa grandemente.
A jovem sorriu e não disse nada.
- Estou aqui evidentemente por engano, - disse ele. - O meu colega - Duarte Nunes - é o sociólogo da minha unidade. Mandaram-me esperar aqui por ele...
- Ah, um sociólogo, - disse ela. - E ele vem aqui para os interrogatórios?
- Não... vem assistir também à tal reunião do Conselho Nacional. - E subitamente franziu uma sobrancelha, receando estar a revelar demais. - E tu? És militar?
Ela abanou a cabeça.
Paulo olhou para os esquemas e diagramas em cima da mesa, que não lhe diziam rigorosamente nada. - Só por curiosidade... posso perguntar de onde vens? Falas português impecavelmente, mas com um leve sotaque...
Nisto ela pestanejou, e pareceu não compreender a pergunta. - Desculpa?
- Era só curiosidade... - Outras unidades tinham evidentemente os seus próprios esquemas de segurança. Paulo corou ligeiramente; será que não era suposto as pessoas saberem de onde vinham? Mas a placa de identificação que trazia ao peito dizia claramente o seu nome e função dentro da PJ. O que não serviu de nada para o conduzirem junto a Duarte Nunes. Apontou para a placa. - Não trazes uma coisa destas? És a primeira pessoa que vejo que não está identificada.
Ela sorriu. - Acho que não é preciso. - E depois tornou-se mais séria. - Estás mesmo perdido aqui dentro, não estás?
Paulo encolheu os ombros. - Suponho que sim... não sei onde estou. Que sala é esta? Que é que aqueles médicos estão ali a fazer?
A jovem cruzou os braços em cima da mesa. - Não sabes?
Paulo abanou a cabeça.
Myra olhou pela janela onde a operação prosseguia. - O que é que vocês costumam fazer com os seres extraterrestres que apanham? Cortá-los aos bocados? Abri-los para verem como funcionam? Sei lá, qualquer coisa do género. Estão ali há várias horas...
Paulo subitamente deu um pulo e interessou-se sobre o que se passava. - Então é isso que estão ali a fazer! Espantoso! - Mas não se conseguia ver bem o aspecto dos ditos extraterrestres. Pelo volume que ocupavam em cima da mesa de operações eram humanóides. Quanto a isso, Paulo não tinha dúvidas. - Como será o seu aspecto? - interrogou-se, aproximando-se mais da janela, mas em vão, era impossível descortinar qualquer pormenor. - Humanóides? Monstrinhos verdes com montes de tentáculos?
Ela ficou muito séria, aparentemente não achando piada ao comentário de Paulo.
- Não, são humanos, - disse ela.
- Humanos? Humanos, como? - perguntou Paulo, curioso. - Como é que sabes, já os viste?
- São tão humanos como tu, - afirmou ela sem sombra de dúvidas.
Paulo voltou a sentar-se. - Mas isso é impossível, - disse ele.
- Não é nada, - disse ela.
- Quer dizer... a probabilidade de evolução paralela... OK, mas mesmo assim... é esticar um bocado... podem ser muito parecidos com os humanos, mas...
- São humanos, - insistiu ela.
- Mas como pode ser isso possível?? - Paulo estava espantado. - Mas humanos... iguaizinhos a nós? Por fora e por dentro? Geneticamente iguais?
Myra pareceu zangada. - Sim, humanos, iguazinhos a ti, por dentro, por fora, pelos lados... estou a ver que só chegaste há pouco tempo, não é verdade? Senão, já sabias. - Levantou-se da cadeira e ficou a observar também a sala de operações. Depois voltou-se para Paulo. O seu cabelo esvoaçou, num gesto muito feminino. - Quer dizer que ainda não te contaram mesmo nada?
Paulo abanou a cabeça. - Ainda não houve tempo... só vi a nave.
- Quer dizer que também não sabes quem eu sou?
A pergunta fora simples e natural - mas Paulo subitamente sentiu um suor frio que inexplicavelmente lhe percorreu o corpo. Abanou a cabeça - mas pressentia que já sabia a resposta.
Myra apontou para o hangar, para a nave. - Eu era o piloto daquela nave que vocês abateram, - disse ela friamente.
E Paulo ficou com a boca aberta durante talvez meio minuto, sem saber o que dizer. Os seus olhos fitaram os da jovem de cabelos compridos castanhos. O silêncio tornou-se quase obcessivo. Estava completamente sem palavras.
- Ah, - fez então, mas não conseguiu dizer mais nada.
- Todos os que entraram por aquela porta só me quiseram interrogar, - disse ela finalmente. - Mas começo a ficar cansada, muito cansada...
- Eu... quero dizer... bolas, não sei o que quero dizer. Não sei se acredito no que estou a ouvir. Humanos, a viver fora da Terra?
Ela encolheu os ombros. - Que há de tão especial nisso? Há humanos por toda a parte.
- Mas...
- Nada de mas; tu não sabes; acredita em mim. Há milhares de planetas habitados por humanos nesta galáxia. E se calhar noutras galáxias também, não sei; nunca viajámos para fora da nossa galáxia. - Voltou a sentar-se, e o seu pequeno sorriso desta vez não denotava tristeza, mas talvez sarcasmo. - Vocês, terrestres, ainda estão convencidos que são muito especiais, que estão no centro do Universo, não é verdade? Escusas de negar; eu conheço muito bem a vossa história.
- Não percebo nada. Mas como podem haver humanos fora da Terra? Os humanos tiveram a sua origem na Terra, por evolução natural...
Ela arqueou uma das finas sobrancelhas. - Quem disse?
- Ah... os antropólogos, os cientistas... Darwin... as evidências genéticas...
- Apenas mostram que houve evolução, sim, mas não dizem nada sobre a origem da evolução, - disse ela. - A Terra é apenas um desses milhares de planetas que dispõem das características essenciais para que a vida tal como tu e eu a conhecemos apareça. Há alguns milhares de anos terrestres atrás que os humanos foram também aqui introduzidos...
- Mas... mas... se assim fosse... porque não houve contactos anteriores?
- Não houve? - Ela riu-se. - A vossa história está repleta de alusões a isso, vocês é que teimam em ignorar isso, porque julgam que estão no centro do Universo. Os egípcios, os maias, os aztecas, todos eles lidavam quase diariamente com os «deuses que vinham do céu». Jesus Cristo. Leonardo da Vinci. Os magos que foram queimados pela Inquisição. Então neste século, os contactos multiplicaram-se, em especial quando vocês, hum... «descobriram» a bomba atómica e começaram a viajar no espaço. Houve quem começasse seriamente a pensar que chegara a altura de colocar a Terra na Aliança...
Paulo abanou a cabeça. - Tudo isso é demasiado fantástico... mas e as descrições dos extraterrestres...? Os Grays não são humanos, são humanóides quanto muito...
- Os humanos não são a única raça na Galáxia, nem sequer são a raça dominante... existem várias... - Ela suspirou. - É cansativo... já repeti isto uma centena de vezes, pelo menos.
- Mas nenhuma das descrições e relatos de OVNIs fala de OVNIs pilotados por humanos, - protestou Paulo. - Nunca li isso em lado nenhum. Experiências genéticas entre extraterrestres e terrestres, isso já é outra história, há milhares de rumores e boatos.
Ela sorriu. - Para isso teria de te falar de política dentro da Aliança...
- O que é exactamente essa Aliança?
- Oh, uma confederação, se quiseres, entre milhares de planetas e dezenas de raças. Os humanos são dos povos mais conservadores dentro dessa confederação. Acham que a Terra tem de desenvolver primeiro a tecnologia necessária para contactar a Aliança. Outras raças não pensam assim, acham que a Terra já demonstrou potencial suficiente, e que com uma pequena ajuda os terrestres podiam desde já avançar como membros. Outras raças têm uma visão muito mais pessimista: julgam que os terrestres são bárbaros, e como a Terra está fora da juridisção da Aliança, consideram que a Terra é um óptimo lugar para proceder a experiências ilegais...
- Devias escrever livros de ficção científica; a seguir vais dizer que existe uma enorme conspiração na Galáxia, em conivência com os governos da Terra...
Ela encolheu os ombros. -Há um mito que a civilização traz consigo uma certa carga de bom senso. Não é verdade; por exemplo, as guerras na Terra são muito mais violentas agora do que no passado. Existem mais interesses envolvidos. Existem armas mais mortíferas. A Aliança também não é um mar de rosas; na realidade, a Aliança só existe formalmente como um conjunto de planetas que se uniu para se defenderem dos inimigos comuns.
- Inimigos...?
- Sim, a Aliança está em guerra com várias nações galácticas... mas não era isso que eu queria dizer. Queria dizer que o facto da Terra não pertencer à Aliança tem consequências interessantes para muitas das raças menos escrupulosas, cujo objectivo é explorar os terrestres em benefício próprio... mas têm de fazê-lo em segredo, pois «oficialmente» o Conselho da Aliança declarou que a Terra era um planeta protegido. Estilo a protecção que os Estados Unidos dão ao Panamá, na Terra: uma nação independente, até que surjam problemas com o canal. É assim que a Aliança vê a Terra: um protectorado. Mas oficialmente os governos da Terra não sabem de nada. Oficiosamente, sabem-no, através das raças que já estabeleceram contactos... é complicado. Se a Aliança reconhecer que esses contactos existem, teria de intervir, no sentido de banir completamente o acesso à Terra. Usando a força, se necessário. Mas isso significaria alienar alguns membros da Aliança. E a Aliança, como disse, é uma espécie de confederação - esses membros podiam insurgir-se contra o Conselho e abandonar a Aliança. - A jovem sorriu. - Política, como vês. Acho que é uma das constantes do Universo: onde há inteligência, há também política.
- Quer dizer que a qualquer altura a Terra poderia ser... invadida?
- Não... como disse, a Terra é um protectorado. Se alguma raça atacasse a Terra, seria expulsa da Aliança, e esta declarar-lhe-ia formalmente guerra. Nenhuma raça vai arriscar isso; a Aliança é militarmente muito forte, embora politicamente não o seja. Por isso essas raças são mais... subtis. Estabelecem acordos com os governos da Terra, em troca de tecnologia e conhecimentos. Tenho uma ideia de que esses acordos são muito unilaterais: essas raças não estão propriamente interessadas em desenvolver o potencial bélico da Terra ao ponto deste se tornar num problema. São feitas imensas promessas que serão cumpridas apenas num futuro distante... e nessa altura, provavelmente a Terra acabará por desenvolver tecnologia própria, e ser aceite na Aliança como membro, tornando inútil esses acordos com essas raças. Como vês, eles estão a jogar muito bem: sabem que, enquanto a Terra continuar sob a protecção formal da Aliança, podem fazer o que muito bem lhes der na real gana com os terrestres, sem darem nada em troca; e mais tarde, como membro da Aliança, a Terra não ganhará nada com esses acordos.
- Mas se esse tal Conselho oficialmente proíbe esses tipos de contactos... não poderiam impôr represálias, sei lá; fazer alguma coisa?
Ela encolheu os ombros. - Política... isso precisa de consenso a nível do Conselho... e esse consenso não existe. O argumento é que, oficialmente, ninguém visitou formalmente a Terra. Isto é, não houve um contacto. Os governos da Terra também são obrigados a fazer segredo disto tudo. Se todos os habitantes da Terra estivessem conscientes do que se passa, provavelmente poderiam apelar para o Conselho, e isso acabaria com todos os problemas. Mas a verdade é que os governos da Terra estão «obrigados» ao segredo, senão... perdem todos os acordos que têm com essas raças.
- Quer dizer... nós
|
Autor: Luís Richheimer de Sequeira
Data: 19/12/98
|
© SIMETRIA
IE5.0 OU SUPERIOR / NN4.7 OU SUPERIOR - 1024x768
WEB DESIGN E DESENVOLVIMENTO: VISUALMÁGICO |
|